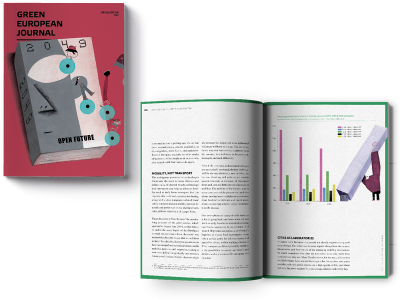Olhando para trás, as bases sempre estiveram lá. Simplesmente, as peças que faltavam eram essenciais. Mas assim que as pressões de baixo foram canalizadas para uma Europa verdadeiramente democrática, todos beneficiaram.
29 alunos do ensino secundário, alguns dos mais brilhantes na União Europeia, estão sentados no edifício da assembleia local de cidadãos em Ebeltoft, uma pitoresca cidade portuária dinamarquesa na península de Djursland, apenas alguns quilómetros a leste de Aarhus, a segunda maior cidade do país. Elias Dumoulin Marcelino chegou de Lisboa há alguns dias para participar num seminário de educação cívica Erasmus+. Fará uma apresentação sobre a história recente da democracia e do Estado de direito. Dentro de algumas semanas, os eleitores deslocar-se-ão às urnas para as eleições de 2049 e ele tentará explicar a importância histórica daquilo que agora parece óbvio. Porque demorou a Europa tanto tempo a chegar aonde se encontra agora? A democracia transnacional e a proteção do Estado de direito a nível europeu – outrora tão distantes – fazem agora parte da mobília política. Era tudo uma questão de vontade – assim que houve um impulso, aconteceu em apenas alguns anos.
No início de 2000, os federalistas costumavam dizer: “façam com que a UE seja pelo menos tão democrática quanto os seus Estados-Membros.” Na altura isto significava sobretudo que os cidadãos deveriam ter a possibilidade de eleger o executivo da União Europeia, tal como os europeus já fazem há algum tempo. Presentemente há dois boletins de voto nas eleições europeias: um para eleger os deputados do Parlamento Europeu e outro para uma lista transnacional que determina a composição da Comissão Europeia. Os partidos dispõem agora de campanhas e programas pan-europeus, bem como de cabeças de lista que visitam todos os Estados-Membros. Pode parecer algo de menor importância, mas há algumas décadas apenas, as eleições europeias prendiam-se apenas com questões nacionais.
Os europeus foram um passo mais longe
Tudo isto parecia bastante ambicioso em 2019 – quase ninguém se atrevia a pensar numa democracia europeia mais democrática do que os Estados-nação na altura. As democracias no início de 2000 assentavam em rituais, procedimentos e enquadramentos dos séculos XVIII, XIX e XX que já não respondiam aos desafios tecnológicos do milénio ou da hiperglobalização.
A atual democracia europeia – representativa e deliberativa – parecia praticamente impensável. Todas as decisões difíceis são agora trabalhadas durante meses pelos próprios cidadãos e não apenas por peritos eleitos que acham que sabem mais do que os restantes. Os europeus reúnem-se em assembleias de cidadãos, fora para deliberarem sobre todo o tipo de questões: da corrupção às alterações climáticas, passando por questões constitucionais e projetos de infraestrutura. Graças ao software de comunicação e tradução, não se limitam a encontros presenciais, todos podem participar em tempo real. Estas assembleias transnacionais de cidadãos europeus dedicam-se a qualquer questão de interesse público. Começam por preparar uma lista de recomendações para as suas instituições representantes e dissolvem-se assim que é redigida uma lei satisfatória.
O poder das práticas sociais
Um passo importante no sentido do nosso regime transnacional de direitos humanos foi a criação passo a passo de práticas sociais. O trabalho das ONG, fundações e mesmo governos na UE criou as condições necessárias para que os defensores de direitos possam aceder ao Tribunal de Justiça, da mesma forma que acediam ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Assim que as organizações de direitos civis descobriram a Carta dos Direitos Fundamentais da UE e começaram a recorrer ao Tribunal Europeu de Justiça para defender os direitos nela consagrados, os Estados-Membros começaram inevitavelmente a mudar de atitude em relação aos seus cidadãos, demonstrando um maior respeito pelos seus direitos adquiridos.
Um marco importante neste processo foi a criação de uma União Europeia de Liberdades Cívicas, uma associação pan-europeia de direitos humanos. Presentemente, milhões de cidadãos são membros registados e apoiam a organização através do pagamento de quotas. Esta União de Liberdades Cívicas envia queixas aos tribunais nacionais, que podem chegar ao Tribunal de Justiça da União Europeia. Um dos casos emblemáticos foi o de Simon vs. Hungria, no qual a União de Liberdades Cívicas representou a estudante do ensino secundário Kristina Simon, que tinha criticado o seu governo num discurso numa manifestação na sua cidade natal, Pécs, no sudoeste da Hungria. Em retaliação, foi expulsa da escola, órgãos de comunicação social nacionais publicaram artigos sobre as suas más notas e absentismo escolar frequente – e inclusivamente algumas das suas comunicações privadas chegaram à imprensa. O governo chegou ao ponto de fazer uma referência ao seu caso numa consulta nacional. Enviada a 8 milhões de pessoas em todo o país, a sondagem citava o seu exemplo para perguntar se havia necessidade de mais disciplina nas escolas.
O tribunal decidiu a favor de Simon. Mas mais importante ainda, o seu caso destacou o desrespeito do governo húngaro pelos direitos humanos e a história de uma adolescente sob ataque do seu próprio governo gerou uma onda de solidariedade a nível internacional. O governo húngaro viu-se isolado e foi forçado a cooperar com a oposição e com a sociedade civil tendo em vista nova legislação para evitar a repetição de episódios como este.
“A União contribui para a preservação e o desenvolvimento destes valores comuns, no respeito pela diversidade das culturas e das tradições dos povos da Europa, bem como da identidade nacional dos Estados-Membros e da organização dos seus poderes públicos aos níveis nacional, regional e local; procura promover um desenvolvimento equilibrado e duradouro e assegura a livre circulação das pessoas, dos bens, dos serviços e dos capitais, bem como a liberdade de estabelecimento.” – Preâmbulo da Carta Europeia dos Direitos Fundamentais da União Europeia.[1]
Os sábios da Europa
Com vista a um acompanhamento geral da situação do Estado de direito, políticos europeus criaram um comité de sábios: a Comissão de Copenhaga. Este novo organismo foi incumbido de avaliar e garantir a continuidade dos Critérios de Copenhaga após a adesão de um Estado-Membro à União Europeia.[2]
Quando os membros da comissão detetam problemas no domínio do Estado de direito, direitos humanos ou valores democráticos num país da UE, a sua tarefa é pressionar o botão de alarme. E quando esta instituição – que trabalha de perto com a Agência dos Direitos Fundamentais mas é independente dos governos e instituições da UE – faz soar o alarme, as suas decisões cautelares têm um elevado grau de credibilidade. Por conseguinte, os Estados-Membros já não podem argumentar que estão a ser alvo de críticas por motivos políticos.
Há 30 anos, era o Parlamento Europeu que fazia este tipo de trabalho, como aconteceu no caso da Hungria e da Polónia. Porém, o Parlamento Europeu é uma instituição política: os partidos políticos nos governos nacionais pertencem a partidos pan-europeus que, nos momentos decisivos, tendiam a defender os seus próprios cidadãos. Nessa altura, acordos de cavalheiros entre famílias políticas no Parlamento Europeu resultavam muitas vezes em inação e a Comissão e o Conselho ficavam igualmente paralisados.
Processar o seu governo
Para que a democracia fosse verdadeiramente transnacional, o povo europeu também teve de se apropriar da Carta Europeia dos Direitos Fundamentais da UE em todas as jurisdições. Este documento incluía 50 artigos e algumas das mais avançadas garantias em matéria de direitos humanos – desde a privacidade, ao ambiente, passando por questões laborais e direitos de propriedade. Mas havia um grande problema: o artigo 51.º da Carta limitava a sua aplicação à escala europeia, pelo que não tinha validade no ordenamento jurídico de um Estado-Membro.
Um grupo de visionário dedicou-se a inverter esta situação. Entre eles estava o advogado grego e cofundador da União Europeia de Liberdades Cívicas, Yannis Rovithi, que lançou uma campanha com vista a suprimir o artigo 51.º. Rapidamente alastraram manifestações pacíficas, nas quais estudantes, agricultores, trabalhadores administrativos e operários manifestaram o desejo de um quadro europeu em matéria de direitos humanos, de Salónica a Atenas, passando por outras cidades europeias (até mesmo algumas comunidades locais organizaram os seus próprios protestos, em vez de se juntarem a manifestações nas cidades). Rapidamente, políticos e governos nacionais perceberam que não havia forma de contornar este desejo popular. O artigo 51.º foi suprimido por decisão unânime do Conselho da UE. Atualmente, os cidadãos europeus e outras pessoas abrangidas pela Carta – tais como refugiados e estudantes estrangeiros – podem recorrer a qualquer tribunal, nacional ou supranacional, com vista a fazer valer os seus direitos e podem processar diretamente um Estado-Membro pelas suas infrações e até mesmo instituições da UE, sempre que estas não atuarem.
Uma organização política transnacional
Não foi tão difícil quanto isso introduzir estas mudanças. Retrospetivamente, poderia inclusivamente dizer-se que foi canja. Mas para lá chegar, os europeus tiveram de mudar completamente de mentalidade. Ao longo da história europeia (e até aos séculos XX e XXI), os pensadores projetavam os seus ideais num futuro distante. Quando Immanuel Kant escreveu sobre a democracia cosmopolita, deu a entender que poderiam ser necessárias várias gerações até que as pessoas tivessem direitos para lá das fronteiras.
Felizmente, alguns visionários perceberam que, no final dos anos vinte do século XXI, a Europa e o mundo estariam a entrar numa fase diferente da história. Tensões na política internacional, crises ecológicas e pressões geradas pelas tecnologias e pela inteligência artificial na organização política internacional, tudo apontava para a necessidade de construir de forma vigorosa a democracia transnacional.
Provavelmente é legítimo dizer que, se não
tivesse criado uma organização política transnacional com direitos fundamentais
e valores democráticos fortes, a União Europeia ter-se-ia desintegrado ou pelo
menos teria passado por momentos muitíssimo turbulentos. Mas conseguiram e o atual
espaço europeu transnacional de democracia e direitos humanos não é apenas ficção.
O seu valor e importância são evidentes na vida quotidiana dos seus cidadãos.
[1] A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia entrou em vigor com o Tratado de Lisboa, em Dezembro de 2009. Tratava-se do instrumento de direitos humanos juridicamente vinculativo mais desenvolvido e abrangente no domínio social na União Europeia e foi o primeiro a incluir direitos civis e políticos, bem como sociais.
[2] Os critérios de Copenhaga, ou critérios de adesão, são as condições que todos os países candidatos à UE têm de cumprir. Em 2019, só se aplicavam a países candidatos, pelo que inúmeros Estados-Membros começaram a retroceder depois da adesão. Os critérios incluem medidas referentes à estabilidade das instituições democráticas, a proteção de minorias e uma economia de mercado viável.